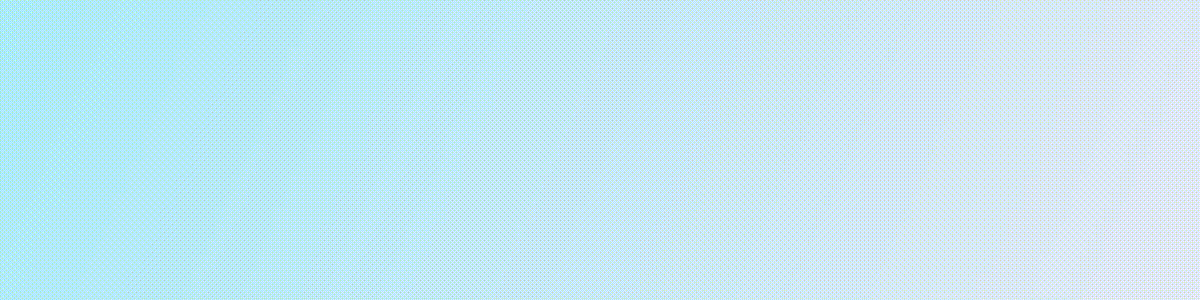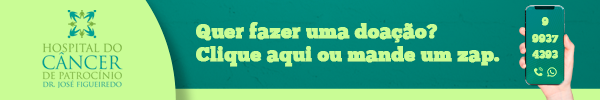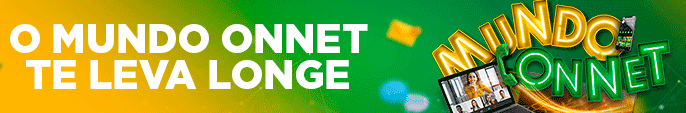Resgato, nesta crônica, personagens marcantes de Patrocínio que busquei tanto na “Primeira Coluna” de Eustáquio Amaral como nos textos de minha autoria na série “O Som da Memória”, ambas colunas publicadas na Rede Hoje e outros meios de comunicação da cidade. São figuras que, entre o real e a lenda, ficaram guardadas no imaginário da cidade. Muitos deles viveram nas décadas de 1950 até 1970. Alguns mais recentemente e tem personagem que ainda vive.
Quase sempre pobres, quase sempre pretos, vindos de uma herança de desigualdade e exclusão que se arrasta desde a escravidão no Brasil. Muitos surgiam sem que ninguém soubesse de onde. Alguns foram parar no asilo, outros tiveram família — mas preferiam a rua. Carregavam consigo a solidão, a bebida, as marcas de problemas mentais. E ainda assim, entre a dor e o abandono, sobreviviam perambulando, trocando um prato de comida por trabalho, ocupando a paisagem da cidade com suas presenças singulares.
 Zé Bonitinho (José Venâncio de Vasconcelos). Nasceu em março de 1905, provavelmente em Gameleira (próximo a Macaúbas) — documentos indicam Coromandel. Figura carinhosa e inofensiva, valorizava sua aparência. Chegou a exigir um "paletó branco, bem bonito". Suas respostas eram típicas: “Brigadinho” (se chamado de Bonitinho) e “Brigadão” (se chamado de Bonitão). Foi homenageado pela escola de samba Brasil Mulato.
Zé Bonitinho (José Venâncio de Vasconcelos). Nasceu em março de 1905, provavelmente em Gameleira (próximo a Macaúbas) — documentos indicam Coromandel. Figura carinhosa e inofensiva, valorizava sua aparência. Chegou a exigir um "paletó branco, bem bonito". Suas respostas eram típicas: “Brigadinho” (se chamado de Bonitinho) e “Brigadão” (se chamado de Bonitão). Foi homenageado pela escola de samba Brasil Mulato.
Bicho Preguiça. Apelidado pela cadência calma e tranquila, mas de preguiça não tinha nada. Vindo da Bahia, vestia calças compridas até quase os pés.
 Mauro do Rádio (Mauro Dourado). Figura simples, caminhava sempre com um rádio de pilha debaixo do braço, pedindo outro a quem cruzasse o caminho. Ficou no folclore como “Mauro do Rádio”, confundido por vezes com “Mauro Dourado”.
Mauro do Rádio (Mauro Dourado). Figura simples, caminhava sempre com um rádio de pilha debaixo do braço, pedindo outro a quem cruzasse o caminho. Ficou no folclore como “Mauro do Rádio”, confundido por vezes com “Mauro Dourado”.
Zé Maquininha. Era ferroviário. Imitava como ninguém o apito das “Marias Fumaças”: “Piuiiiiii”. Numa dessas jornadas, ao rachar lenha para as caldeiras, o machado escapou e decepou-lhe os dedos de um dos pés. Parou de trabalhar, ficou em Patrocínio e se entregou ao alcoolismo. Ganhou, nas ruas, uma vida que misturava dor, lembrança e sobrevivência.
Gerson Preto. Sempre com seus enormes “bolos” de barbante, que contava um a um. Quando já passava de cinquenta ou cem, bastava alguém puxar conversa — geralmente crianças — para ele recomeçar tudo de novo. Era amável, não bebia. Uma presença terna no meio do tumulto.
Chico Cabo. De olhos azuis e vocabulário “colorido”, era o pavor das mocinhas da Escola Normal. Chamá-lo de “Anu” era certeza de ouvir um sermão capaz de deixar um marinheiro corado. Morreu quietinho, “como os passarinhos”. Mas sua memória ainda faz barulho nas esquinas. Regininha (Regina Arruda Martins). Natural de Coromandel, chegou a Patrocínio com dois anos. Casou-se e teve dois filhos — Gaspar e Vicente —, que morreram jovens, junto com o marido, provavelmente por alcoolismo. Depois da tragédia, passou a andar pelas ruas da cidade com corpo curvado, cabeça baixa, mas com calma e educação. Viveu mais de cem anos. Sua lembrança ainda comove.
Regininha (Regina Arruda Martins). Natural de Coromandel, chegou a Patrocínio com dois anos. Casou-se e teve dois filhos — Gaspar e Vicente —, que morreram jovens, junto com o marido, provavelmente por alcoolismo. Depois da tragédia, passou a andar pelas ruas da cidade com corpo curvado, cabeça baixa, mas com calma e educação. Viveu mais de cem anos. Sua lembrança ainda comove.
Melito, o Vaqueiro-Poeta. Depois de algumas doses, declamava versos às moças: “Cheirosa... orgulhosa... gostosa... deixa istá... sô preto... feioso...” e ria, como quem zombava da vida. Um dia, salvou uma criança da roda-gigante com seus braços fortes — prova de que nem todo herói precisa de capa, basta coragem e cheiro de pinga. Conta a tradição oral que donos de hotéis e padarias o pagavam com um prato de comida para rachar caminhões de lenha.
Mané Goiás. Sua obsessão? Ir para Goiás — ou, na falta, comer frango. Certa vez interrompeu um casal apaixonado dentro do carro com a pergunta mais inusitada: “Tá indo pra Goiás?!”
Sá Maria. Era o “bicho-papão” das crianças. Seu nome corria em sussurros assustados pelas esquinas, mas hoje arranca sorrisos. Como todo fantasma que se preze, deixou mais lembrança do que medo.
Branco. Último sobrevivente dessa turma. Caminha até hoje pelas ruas, sempre com seu radinho. Presença discreta nos bastidores do rádio patrocinense, foi adotado simbolicamente pelos radialistas da cidade. Seu humor simples ainda ecoa: quando perguntado em quem votaria, se em Jota Santos ou Roberto Taylor, respondia sempre: “Nocê, uai, voto nocê!”. Até que um dia, diante dos dois candidatos juntos, disse com naturalidade: “Uai! Eu num voto, nem tirei o tito”.
Esses personagens — entre a lenda e a carne, entre a rua e a memória — ajudaram a compor a identidade de Patrocínio. Folclóricos, faziam rir, provocavam medo, despertavam compaixão. Mas também sofriam. E faziam sofrer os que lhes queriam bem.
Por trás de cada figura, por mais bêbada, louca ou desajustada que parecesse, havia sempre uma história. Histórias de gente marcada pelo abandono, pelo preconceito, pelo racismo estrutural que, naturalizado, se fazia parecer normal. Mas eram vidas que, mesmo nos limites da exclusão, deixaram rastros de humanidade — e é a eles que devemos parte de nossas memórias.
Nota: Alguns destes registros foram vivenciados pelo autor. Há pouquíssimos registros escritos destes personagens, por isso, pode haver diferença entre um e outro relato, pois, grande parte deles, são orais.